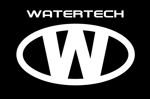Ganja

Nabin senta-se primeiro que eu na relva fresca e faz o gesto de acender o pequeno cigarro Kukuri cheio de erva dentro. Mas os movimentos param a meio e tomam um novo rumo, mais complexo, de uma espécie de oração, acompanhados de algumas palavras estranhas para mim.
- What are you doing man? - pergunto enquanto me sento ao seu lado.
- I'm praying to the good of marijuana, Shiva...
Enquanto ele por fim acende o charro os meus pensamentos
perdem-se por caminhos desconhecidos e ali, debaixo de um sol ainda forte, com uma vista não menos poderosa sobre os irreais 8.000 m do Manaslu, com o corpo bem assente no verde das margens do rio Marshyangdi, tenho uma súbita
e clara consciência de que Nabin - como a maior parte dos Nepaleses - tem uma ligação muito mais forte e primordial com as coisas que faz, com as palavras que diz, com a própria vida.
Nabin passa-me o cigarro, aspiro o fumo profundamente e aprisiono-o por momentos nos meus pulmões, para o libertar em direcção ao azul do céu. Olho para a agitação do acampamento a umas dezenas de metros de distância, e depois para a agitação ainda maior e mais distante das águas revoltas e brancas do rio. Para os lados das grandes montanhas o céu começa a pintar-se de negro com nuvens de tempestade. Dou mais uma passa e devolvo o charro a Nabin. O meu corpo começa a ficar mais desperto. Oiço com maior nitidez todos os sons que me rodeiam: o rio em fúria, pedaços de conversas em flamengo e nepalês, o fumo a entrar e a sair da boca de Nabin. Sinto o vento a crescer e o calor do sol na minha pele, apercebo-me do rápido avançar das nuvens ameaçadoras que descem para o vale.
Entre mim e Nabin apenas silêncio. Mas sinto que partilhamos algo mais do que apenas um pedaço de erva a arder. Com o fumo, entra no meu corpo um respeito pela simplicidade das coisas, um conhecimento que não pode ser ensinado nem aprendido, porque não pode ser explicado, apenas sentido.

Ram, o chefe dos nossos carregadores Gurung, avança na nossa direcção vindo do acampamento. Tenho uma admiração enorme por este homem magro, baixo e escuro. Uma admiração que lhe consegui transmitir por gestos depois de o ver carregar durante mais de seis horas um fardo com oitenta quilos suspenso da testa apenas por uma estreita tira de tecido. Seis horas que suportou com a expressão neutra de quem pensa que é um trabalho normal que tem que ser feito. Apesar de estar a carregar bem mais do que o seu próprio peso, e de sermos quatro pessoas a ajudá-lo a levantar do chão o peso desmesurado do fardo.
Ram está agora perto de nós e sorri com vontade apontando com um dedo primeiro o nariz e depois o fumo espesso e aromático que se liberta do nosso charro. Com o mesmo dedo aponta para si próprio e diz meio afirmando, meio em tom de pergunta: ganja!?
Partilhar a erva com Ram é para mim ao mesmo tempo uma profunda honra e um acto cerimonial. Observo com atenção como ele coloca as mãos em forma de concha, aspirando o fumo na zona dos polegares com o cigarro entalado na outra extremidade. A sua expressão não é muito diferente daquela que tinha quando transportava a carga pela montanha acima: tranquila e natural. Depois de acabar com o charro, ficamos os três no mesmo silêncio, olhando-nos mutuamente. Tenho outra vez a sensação de que estamos a comunicar sem palavras, numa conversa telepática sem idioma, sem tema, sem propósito.
Sinto todos os músculos do meu corpo relaxarem, e a minha mente encher-se de vazio. De um agradável vazio. Não sei quanto tempo ficamos assim sentados na relva verde e fresca das margens do Marshyangdi.
Despertamos com o som inesperado e forte de um trovão, acompanhado quase em simultâneo por grossos e pesados pingos de chuva. Olho com surpresa para o céu e vejo que a tempestade sorrateiramente se tinha instalado mesmo por
cima de nós. Levantamo-nos para regressar ao acampamento. Ram interrompe-me colocando a sua mão direita no meu ombro. Olha para mim directamente nos olhos, esboça um sorriso e abana a cabeça uma vez afirmativamente.
Sei que me está a agradecer, mas não sei exactamente se me agradece pela ganja partilhada, pelo momento mágico e mudo que experimentámos ou pelo facto de eu lhe ter demonstrado dias antes a minha admiração. Apenas sei que foi provavelmente o agradecimento mais simples, mais espontâneo e sincero que alguma vez recebi. Quando ele retira a mão, dou-lhe uma suave palmada nas costas e sorrio.
Ram, Nabin e eu corremos para o acampamento rindo alto, encharcados até aos ossos pela chuva poderosa que os Deuses dos Himalaias resolveram despejar sobre nós.